, já que o entorno pode ser ameaçado, e suas populações podem vir a crescer, além do fato de que há inúmeras pressões para que abandonem
, mas que têm suas vidas modificadas por conta da urbanização, do desenvolvimento e da imposição cultural.
Segundo ele, as comunidades indígenas que vivem no Brasil sofrem uma “imposição do paradigma dominante” sobre seus regimes de conhecimento tradicional, e é isso que “explica o êxodo que a Amazônia vem vivenciando nos últimos 20 anos e que culmina no esvaziamento das beiras e comunidades e no inchaço das cidades”.
 |
Mapa: reservaer.com.br
|
IHU On-Line - Como é a vida das pessoas que vivem à margem dos rios na Amazônia? Hoje, os moradores são, em sua maioria, indígenas ou há também pescadores e pessoas ligadas a comunidades ribeirinhas?
Bruno Caporrino - As beiras são tantas quanto são suas gentes. Os
povos indígenas, em sua maioria, residem em terras indígenas demarcadas, o que constitui um direito assegurado pela
Constituição Federal de 1988 e um importante passo para a conformação de um Brasil justo, plural e democrático. Já as
comunidades ribeirinhas são, em sua maioria, habitadas por pescadores e extrativistas, mas trata-se de um universo tão variegado que, de região para região, as ocupações a que se dedicam seus moradores variam muito.
No baixo Amazonas, há regiões em que os habitantes das comunidades ribeirinhas se dedicam à pesca e ao extrativismo de açaí, que movimenta importante cadeia. Mas esse recorte “profissional” não se aplica muito bem: definir as pessoas em função das atividades a que se dedicam pode ser muito arriscado nesses contextos, já que as famílias costumam, em geral, dedicar-se a muitas atividades simultaneamente – da extração de açaí à pesca, passando pela extração de madeira, carpintaria (naval ou civil), além de fazer seus roçados e se dedicar à criação de animais para subsistência e, em alguns casos, venda de excedente. É o que ocorre com as comunidades situadas nos furos e voltas que ligam Macapá a Belém, passando por Afuá, por exemplo.
IHU On-Line - Qual é a peculiaridade e as diferenças das comunidades e cidades como Afuá, Breves, Chaves, Melgaço, Portel, Bailique?
Bruno Caporrino - É muito difícil definir, porque se trata de percursos históricos diferentes, em contextos diferentes, e espaços diferentes. Afuá, por exemplo, é uma ode à mentalidade ameríndia: se o rio sobe e desce conforme as marés, vivamos sobre ele de modo que ele possa crescer, e nós também. Breves é um grande entreposto entre Macapá e Belém, com forte colonização portuguesa e interações diversas com um Estado diferente em momentos diferentes e índios diferentes. Isso merece muito, muito, muito trabalho de campo, e eu confesso que gosto muito de ver que, a cada visita, saio com mais perguntas do que respostas, e, assim, poderei continuar me perdendo por aí (risos).

“A maioria dos povos indígenas que ocupam a região se afastou, historicamente, das margens do Amazonas, fugindo das pressões exercidas pela colonização”
|
IHU On-Line – É possível saber quantas comunidades indígenas/ribeirinhos vivem à margem dos rios na Amazônia e como elas se relacionam?
Bruno Caporrino - Trata-se de um grande
universo de comunidades. Em alguns casos, elas consistem na ocupação de uma beira por uma família extensa apenas (avós, pais, genros, noras, netos, primos). Mas algumas são comunidades maiores, como
Bailique, distrito de Macapá, e há até agrupamentos maiores, como
Breves,
Portel,
Chaves, e
Afuá. Sendo um universo tão vasto e variegado, as relações não poderiam ser simplificadas categoricamente com um enunciado “são assim”. São muitas e muitas comunidades, a ponto de ser possível questionar inclusive as estatísticas oficiais, uma vez que os
Censos do IBGE, por exemplo, não têm tanta capilaridade quanto algumas estatísticas municipais relativas à educação e à saúde, por exemplo.
O ideal, do ponto de vista demográfico, seria consorciar esses levantamentos, mas isso exigiria unificar as categorias de levantamento desses dados. Pode-se dizer, contudo, que nessas comunidades vive-se de acordo com outros regimes de conhecimento e relações, pautados pelas trocas e permutas, pela partilha, muitas vezes, e, paradoxalmente, por relações de vizinhança e proximidade, por mais distantes que sejam as comunidades umas das outras. O dinheiro, equivalente universal que equipara bens numa troca, é utilizado, mas não se pode dizer que anula as relações entre os “vizinhos” que trocam. De favores a serviços (como a tradicional “passagem” – a ‘carona’ numa embarcação) até a troca de bens e produtos, mesmo que pautada pela troca de excedentes e mediada pelo dinheiro, nas comunidades menores, se diz que ela acontece “valendo”: olhos nos olhos, visando trocas justas, e norteada e regulamentada por uma miríade de códigos sociais.
Nesses contextos, as embarcações desempenham um papel fundamental: desde os “turcos de regatão” que varavam rios, igarapés e igapós mercadejando com seringueiros, indígenas, castanheiros e pescadores, trocando bolas de seringa por mantas de pirarucu seco ou pilhas e velas, em regime de “aviamento” até os dias de hoje, as ligações entre as comunidades e ‘cidades’ como Breves e Afuá se dão por meio das embarcações.
IHU On-Line - Que tipo de relação existe, ainda, entre índios e não índios na região?
Bruno Caporrino - Há muitas
etnias indígenas na região, e a maioria delas conta com suas terras demarcadas e homologadas. Organizados em torno de fóruns como associações, os povos indígenas, cada qual à sua maneira, respeitando seus regimes de conhecimento e organização social, deliberam consensos sobre como desejam fazer a
gestão socioambiental de suas terras, e influenciar as políticas públicas de modo que elas atendam suas necessidades, que são muito peculiares e devem ser diferenciadas das políticas públicas dirigidas aos não índios (segundo o que garante, por exemplo, a
Constituição Federal e a
Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil em 2004).
Afastamento
É importante saber que a maioria dos povos indígenas que ocupam a região se afastou, historicamente, das margens do Amazonas, fugindo das pressões exercidas pela colonização, cada qual a seu modo, e em um percurso geográfico e histórico diferente, ocupando as regiões mais montanhosas e de acesso mais difícil às frentes de colonização. Mesmo assim, inúmeras modalidades de relação com inúmeros agentes não indígenas foram estabelecidas historicamente, relegando ao Pará e ao Amapá uma cultura rica e diversa, produto de variados contatos com variadas gentes em variados momentos históricos. Assim como cada povo indígena tem sua língua, seu sistema de parentesco e relações, e, portanto, suas relações políticas, as muitas comunidades de não índios, que ocupam as beiras no Baixo Amazonas, são muito diversas, pois têm histórias diversas.
A região de Breves, por exemplo, conta com traços históricos e culturais próprios, diferindo de regiões como Óbidos e Oriximiná. Indígenas diferentes, interagindo com não indígenas diferentes (afrodescendentes, açorianos, portugueses, franceses, holandeses) em momentos históricos diferentes. Isso permitiu aos habitantes desse universo
consolidar aspectos sociais muito peculiares. Houve contextos e períodos em que as relações entre indígenas e não indígenas foram belicosas, como no caso da região norte do Amapá e do Pará, disputada por portugueses, franceses, holandeses e indígenas diversos. E houve contextos e momentos em que essas relações foram pautadas pelas trocas simbólicas e materiais que moldaram as feições específicas de cada região. Desde a década de 1950, contudo, o Estado brasileiro retomou
projetos colonialistas para a Amazônia e passou a adotar posturas muito equivocadas para a região, prepotentemente chamada de “vazio demográfico”, o que demonstra o grau de desconhecimento desse tipo de ideologia: índio não é gente? Quilombola, caboclo, não é gente?

“Na Amazônia, os rios são as principais vias para a socialidade”
|
|
Ideologia nacionalista
A retomada desse pensamento moldou ações que degeneraram nos planos da
ditadura civil-militar para a região. O paradigma por trás desses projetos era a ideologia nacionalista, integracionista e assimilacionista, que visava transformar os índios em “brancos” e, portanto, “brasileiros”, numa versão mais atualizada da sanha colonizadora que pretendia “transformar índios em gente”, de modo que pressões madeireiras e minerárias, incentivadas pelo Estado, sob poder do capital — muitas vezes internacional — promoveram o avanço de
frentes de expansão insustentáveis, tanto ecológica quanto economicamente. Essas frentes geraram
conflitos entre indígenas e não indígenas. Contudo, pode-se dizer que, no geral, entre indígenas e os não indígenas que habitam as pequenas comunidades ribeirinhas, as relações são de trocas (materiais e simbólicas).
Atualmente, sobrevivem relações e modelos de pensamento e organização social muito tributários dos povos indígenas, nas comunidades amazônidas como um todo. Essa é a maior riqueza com a qual qualquer país se orgulharia de contar: riqueza sociocultural, imiscuída em uma vasta gama de contextos socioambientais.
IHU On-Line - Num artigo você comenta que, tanto o que une quanto o que isola as diferentes comunidades que vivem na Amazônia, é a água. Que relação elas estabelecem com a água e como veem esse recurso natural?
Bruno Caporrino - Na Amazônia, os rios são as principais vias para a socialidade. No Baixo Amazonas, isso não é diferente. Sobre as águas, contando com elas, e nunca contra elas, uma vasta gama de socialidades se desenvolveu tomando-a como um fator preponderante, em vez de negar. Quando
Leandro Tocantins apresentou seu livro “
O rio comanda a vida” (1952) para
Getúlio Vargas, teve de ouvir do então ditador que seu projeto para o Brasil seria inverter a relação, e fazer, através das políticas públicas, com que o rio fosse comandado. Houve, como mencionei, muitos projetos nesse sentido: usinas hidrelétricas, barragens, comportas, canalizações, para a Amazônia. Mas, como um
Fitzcarraldo (personagem principal do filme homônimo de Werner Herzog, 1982), o Estado e o capital deram, se permitem o folguedo, “com os burros n’água”. Todos os
projetos voltados para a Amazônia se valiam de um paradigma “natureza versus cultura”, ou melhor, “
cultura versus natureza”, onde o Homem (seja lá o que for essa síntese de tantas humanidades possíveis) seria o senhor da vida e dominaria a ‘natureza’. Esse paradigma se encontra no cerne da cosmologia ocidental corrente: desde o Antropocentrismo renascentista ao evolucionismo (na verdade, uma deturpação das
teorias de Darwin, que nunca falou em evolução) ao positivismo, encontramos traços desse mito fundador cartesiano do pensamento ocidental: homem igual superação da natureza. Natureza igual matéria inanimada, inerte e não reativa.
Esses projetos foram por água abaixo na Amazônia justamente por não fazer como os seringueiros, quilombolas, retirantes, que se mudaram para o bioma ao longo do tempo. Eles aprenderam com os povos indígenas suas tecnologias e passaram a adotar, à sua maneira, evidentemente, seus conhecimentos e paradigmas sobre os ambientes e suas gentes, refletindo isso em suas modalidades de relação com eles, e influenciando inclusive sua organização social e cosmovisão. A água permeia, de fato, tudo nesses tecidos sociais. Passando a viver com as águas, em parceria com elas, as muitas gentes que ocuparam a Amazônia com o passar do tempo dedicaram-se a desenvolver estratégias que, em lugar de superá-la, domá-la, dedicaram-se a fazer como os povos ameríndios, e fazer contratos, pactos, acordos com a água e seus regimes, valendo-se dela a seu favor.
Pré-conceitos evolucionistas
Como bem coloca
Immanuel Kant em seu
Crítica da razão pura: a pomba só alça voo por contar justamente com a resistência que é oferecida pelo ar. Longe de negá-la, o pássaro respeita, reconhece essa característica e, em acordo com ela, alça voo, se vale dela, respeitando-a. Esse é um traço definitivo da relação entre as muitas gentes e as águas na Amazônia: o
respeito, não como um traço “ecologicamente correto” (que seria uma justificativa
ad hoc), mas sim o respeito às feições, regimes, instanciações das águas, a fim de valer-se delas para tirar partido delas. Fazendo suas casas sobre as águas, os
ribeirinhos não se abalam com as cheias dos rios. Pescam da porta de suas casas. Enquanto isso, nas cidades que imitam (muito equivocadamente, aliás) o paradigma europeu de urbanização e ocupação do espaço (que reflete o
paradigma ocidental de relação com a ‘natureza’, pautado pela superação e pela negação), rios são canalizados, córregos, aterrados e cobertos, vales, desmatados, e o prepotente “progresso”, que se traveste de objetividade e cientificismo na cruzada contra a ‘natureza’ acaba demonstrando ignorar absoluta, completamente, o próprio planeta, pois cidades são soterradas, alagadas, rios transbordam,
cidades como São Paulo ficam sem a tão essencial água...
A questão de fundo é: quais os
regimes de conhecimento envolvidos na ocupação espacial e na lide com os ambientes? É preciso desvencilhar-se dos pré-conceitos evolucionistas e compreender que as gentes que ocupam a Amazônia possuem um sólido corpus epistemológico sobre os ambientes e o cosmos. Não se trata de “lendas e mitos”, mas sim de saberes, de uma rica gama de regimes de conhecimentos, que têm um importante diferencial: reconhecer os ambientes e suas gentes como interlocutores, agentes (como bem elabora a etnologia atual, vide os textos de
Eduardo Viveiros de Castro). Para os caboclos, ribeirinhos, pescadores, a água é um agente: ela age e reage. Saber estar no mundo é saber estar com ela, reconhecê-la. No inverno os rios sobem de nível? Fazem-se casas sobre palafitas. Mora-se sobre barcos. E por aí vai: a água permeia tudo nesse contexto, sobretudo as mentalidades.
| 
“Para os caboclos, ribeirinhos, pescadores, a água é um agente: ela age e reage”
|
IHU On-Line - Qual é a imagem de senso comum que se tem acerca dessas comunidades que vivem na região amazônica? Como essa imagem foi construída e de que modo ela interfere na maneira como, de modo geral, se pensa nos indígenas e comunidades que vivem na Amazônia?
Bruno Caporrino - Para o pensamento ocidental, grosseiramente falando, claro, há uma cisão entre natureza e cultura. Natureza seria matéria inerte, não ativa, não reativa. Somente aos homens seria dado inteligir: pensar, entender. Aos animais, como escreve Descartes, por exemplo, resta mover-se, pois seriam mecanismos orgânicos, desprovidos de anima, alma. Esse traço se reflete nas relações entre homens e ambientes na história desse regime de conhecimento. Segundo esse paradigma, grosso modo, a alma seria um princípio extremamente único, individual, e somente os homens a teriam, restando aos animais, plantas, rios, etc., ser matéria com a qual se pode moldar o mundo, à imagem e semelhança do ideal antropocêntrico de homem ocidental.
O corpo, por exemplo, segundo esse corpus teórico, seria universal: rim é rim, fígado é fígado, bois, porcos, homens, os têm. O pensamento ameríndio, ao contrário, parte do pressuposto contrário: basicamente reconhece que o corpo é a instanciação específica dos seres, ao passo em que a alma, o anima, seria geral, universal. Esse regime de conhecimento pressupõe que seres vivos agem, reagem, interagem, intelegem. E atribui humanidade à vida. Calcadas sobre matrizes epistemológicas diferentes, as cidades ‘ocidentais’ são edificadas sobre o mundo, com matéria do mundo, considerados inertes, inanimados. Os povos que habitam a Amazônia se valem de uma mistura de regimes de conhecimentos muito rica, mas, certamente, se pode dizer que predomina o regime ameríndio de conhecimento, que atribui agência, capacidade de agir, aos seres. Assim, enquanto as cidades ocidentais devastam vales, e depois ficam sem água, os povos ameríndios e amazônidas reconhecem as florestas e águas, e suas gentes, capacidade de agir.
Não se trata, repito, de “fazer ecologia”. Trata-se de ciência, de regimes de conhecimento. Dotando os seres de agência, os povos que habitam as beiras na Amazônia, reconhecem-nos como interlocutores, e, assim, dialogam, negociam com eles, mais do que simplesmente domá-los. Assim, casas sobre palafitas deixam o rio... simplesmente correr. Encher, secar. Barcos e casas de madeira são biodegradáveis, e podem ser abandonados, conforme as exigências das roças o exija. Trata-se, no caso das comunidades amazônidas, de muitos regimes de conhecimento refletidos em muitas modalidades de relação social, e de relação com os ambientes e seus regimes. Mas, no geral, se bebe água, porque não se “doma” a água.
IHU On-Line - Como essas cidades têm se modificado a partir da expansão urbana e como elas sobrevivem desde então? De que modo a expansão urbana altera o modo de vida deles?
Bruno Caporrino - Infelizmente, o paradigma ocidental predominante, pautado pela dualidade “homem x natureza”, tem uma característica: diferentemente dos regimes ameríndios, esse pensamento se pretende colonizador. Aos
povos tradicionais é muito comum e natural trocar. Absorver, canibalizar, como bem percebeu
Mário de Andrade. Mas o
pensamento ocidental se pretende reformador, e negando ao “outro” sequer a capacidade de pensar, ele prega seus valores através de todos os meios possíveis. Junta-se, no dizer popular, a fome com a vontade de comer: os povos tradicionais possuem uma abertura fantástica à alteridade e, assim, estão sempre muito dispostos a aceitá-la e incorporá-la, ao passo que o pensamento ocidental se pretende o “único pensamento”, o único conhecimento. E se impõe. Assim, nas inúmeras comunidades espalhadas pela Amazônia, assiste-se à televisão, e se incorpora uma autoimagem desastrosa: “nós somos atrasados. Somos as crianças da humanidade. Estamos alinhados à natureza e, por isso, somos primitivos”. Morar no mato passa a ser, com o tempo, deplorável, sendo o ideal de vida
habitar grandes cidades de concreto e... passar fome e mesmo sede.
Essa imposição do
paradigma dominante sobre os regimes de conhecimento tradicional explica o
êxodo que a Amazônia vem vivenciando nos últimos 20 anos, e que culmina no esvaziamento das beiras e comunidades e no inchaço das cidades. Ocorre, contudo, que o
modelo de cidade imposto por esse sistema de valores foi desenvolvido segundo critérios que não chegam aqui. Disso decorre que os ribeirinhos e comunitários deixam suas comunidades, entendendo-se como primitivos, incultos, incivilizados, privados, para morar nas periferias das cidades que começam a hipertrofiar. Passam, assim, do centro de seu universo simbólico, social, econômico, onde faziam tudo por si mesmos, para si mesmos, com recursos ilimitados e uma tecnologia gritantemente adequada a tudo isso, enfim, saem do centro de seu universo, para ocupar a periferia da periferia da periferia do universo... dos outros, no caso, Miami, Nova Iorque, os centros do poder tão divulgados como modelos a se seguir.

“As políticas públicas tendem a igualar (negativamente) índios, ribeirinhos e habitantes das cidades”
|
|
Paradigma dominante
Como esse paradigma é dominante, o Estado o endossa. Prova disso são as políticas públicas: equalizadas e equalizantes, as
políticas públicas tendem a igualar (negativamente) índios, ribeirinhos e habitantes das cidades. Chega a ser até engraçado andar por vilas ribeirinhas e ver, nas escolas, cartilhas do
MEC com ensinamentos em português, por exemplo, que se valem de sinalização semafórica e faixas de pedestres, coisas que só existem nas cidades. Trata-se de um grande
processo de colonização, que visa trazer os habitantes de universos equilibrados social, cultural, econômica, ecológica e, sobretudo, simbolicamente, para a periferia de um modelo que sequer é implementado direito.
Creio que o que está por trás disso é esse paradigma: na melhor das intenções, o Estado crê ajudar quilombolas, indígenas e ribeirinhos, ao tirá-los de seus universos (onde repito, estão no centro, como soberanos), para trazê-los às cidades. Troca-se, assim, vilas ribeirinhas onde se caça, pesca, extrai e reparte, “avizinha”, por periferias de centros inchados, sem as condições essenciais como luz, água tratada e esgoto. É um muito mau negócio – para essas populações, mas não para o capital, que, manipulando o Estado, engrossa o famigerado exército industrial de reserva e transforma nobres pescadores em desesperados desempregados, que aceitarão precárias condições de trabalho para produzir, com essa mão de obra barata, produtos que, ao contrário do que era antes, nas comunidades, sequer serão deles, embora feitos por eles.
IHU On-Line - Como os moradores dessas cidades, especialmente os mais antigos, veem a expansão urbana?
Bruno Caporrino - Nunca me esqueço de uma longa conversa que tive com Dona Veridiana, uma senhora de 80 anos, em Breves. Ela pescava “manjubinha”, um pequenino peixe, de cerca de 50 g, com seus muitos netos, à beira. Sentei-me a seu lado, e conversamos por um dia inteiro, à beira. Seus netos (10 ao todo) estavam morando com ela, já que os pais (filhos de Dona Veridiana) tinham seguido cada qual um caminho. Dona Veridiana morava com o marido e os filhos numa “beira”, isolados, quando o marido resolveu deixar de pescar e vender açaí para tentar sorte melhor em Breves. Lá chegando, mudaram-se para uma casinha na periferia da então crescente Breves. Sua filha enamorou-se de um rapaz e deu à luz ao neto mais velho. O rapaz, contudo, não encontrou emprego em Breves, porque, ao contrário do que se faz nas comunidades, não podia plantar roça ao lado de casa, pescar na frente de casa: se depararam com uma situação em que um ser humano só tem direito a alguns poucos metros quadrados para viver, sendo, o resto, do Estado ou propriedade particular. Esse jovem foi tentar a sorte no garimpo e levou a neta de Dona Veridiana, que voltou anos depois, viciada em tóxicos, e com mais três filhos, que deixou com a mãe para, depois, sumir. O outro filho, também sem conseguir emprego, teve uma desavença com um vizinho, que, nesse contexto, era apenas um estranho, e infelizmente cometera homicídio, deixando a mãe com os quatro netos.
Infelizmente, a história de todos os filhos de Dona Veridiana era muito semelhante. E, mais infelizmente ainda, essa é uma história muito comum. É a história da
ocupação urbana precarizada na Amazônia, pautada pela perda de uma matriz simbólica que permitia aos homens outras relações entre si, com a terra, com a água, com o espaço, com o trabalho, com as florestas.

“Onde há populações tradicionais vivendo em florestas, estas florestas estão mais preservadas”
|
IHU On-Line - Há presença do Estado nessas cidades?
Bruno Caporrino - Ouvindo os agricultores familiares do Amapá, por exemplo, em vários momentos, é comum ouvir que “o governo não aparece para dar autorizações para o plantio dos roçados, ou certificar a produção, mas sim para punir quem derruba uma pequena área para plantar roça”. E é verdade. Trata-se, é preciso entender, de um conflito de paradigmas. O Estado universaliza, não aplica políticas específicas e diferenciadas, embora devamos ser justos e reconhecer que, graças à Constituição Federal de 1988, há políticas nesse sentido. Contudo, os agentes que acabam ocupando os postos dentro do Estado almejam, perseguem os valores, os ideais, o modelo difundido pesadamente como o modelo ideal: carro, casa própria, salários, posses. E passam a aplicar as políticas públicas nesse sentido. Por isso é comum ver, em terras indígenas, banheiros construídos sem consulta às comunidades, que nunca usariam e nem usam tal equipamento. Ao passo em que as políticas para a saúde e para a educação são, como se diz por essas bandas, “políticas de gabinete”, elaboradas por tecnocratas que desconhecem as realidades locais.
O que é desenvolver-se?
Assim, quando há presença do Estado, ela não é necessariamente boa. No fundo, é mesmo uma questão de valores:
apregoa-se o desenvolvimento. Mas... o que é isso? O que é desenvolver-se? O que é saúde? Seria a qualidade de vida, qualidade de relações, qualidade de vida, de água, comida boa? Ou seria consumir produtos industrializados, obtidos mediante trabalho precário, e depois ter de entupir de remédios? O que é educação? Seria a educação a prática social e coletiva de construção da pessoa, que passa a atuar como uma cidadã dentro dos códigos apreendidos, na prática? Ou consistiria em trancar crianças numa linha de produção fordista, que geraria quadros para o mercado? Essas discussões estão na pauta de muitos povos amazônidas. Mas, infelizmente, não de todos. O fato é que,
migrando das beiras, comunidades, para a cidade, passa-se a viver sob outras regras, dentro de outro sistema social, de tempo, de espaço, de relações. Nesse sistema, é fundamental canalizar e tratar água. A energia elétrica é essencial. A educação escolar, idem, etc. Mas isso não está ocorrendo.
IHU On-Line – Como os indígenas contribuem para a conservação da Amazônia?
Bruno Caporrino - Ao contrário do que a mídia dominante apregoa, a Constituição Federal de 1988 não atribui aos povos indígenas ‘privilégios’. Trata-se de um reconhecimento, reparatório, a um direito que é muito mais antigo do que o próprio Brasil. Aos povos indígenas são reconhecidos os direitos (é essa a palavra) à autodeterminação, às suas expressões culturais, e ao usufruto de terras que assegurem sua sobrevivência, inclusive cultural. Desse modo, os povos indígenas lutaram para conseguir a demarcação de suas terras indígenas, mas, depois de demarcá-las, se depararam com outro desafio: como viver em terras demarcadas, já que o entorno pode ser ameaçado, e suas populações podem vir a crescer, além do fato de que há inúmeras pressões para que abandonem sua língua e cosmovisão? Diante disso, os povos indígenas passaram a deliberar, através de seus fóruns representativos legítimos, iniciativas para a gestão de suas terras. E começaram a fazer planos de gestão territoriais e ambientais, que são consolidados de seus consensos sobre como decidiram se organizar para continuar vivendo segundo seus jeitos e conhecimentos e, assim, fazer a gestão socioambiental de suas terras.
É forçoso pontuar que está cientificamente comprovado que, onde há populações tradicionais vivendo em florestas, estas
florestas estão mais preservadas. Está comprovado que onde há populações tradicionais caçando, pescando e fazendo roçados pequenos, em regime tradicional, há muito mais caça, peixe, biodiversidade, do que nos locais onde há somente florestas. Resumidamente, pode-se dizer que os modos indígenas de se organizar, ocupar a terra e usufruir dos recursos são
muito eficientes para a gestão da biodiversidade.
| 
“Os povos indígenas prestam um imenso favor à humanidade”
|
Os indígenas e um favor à humanidade
Com base nisso, o que muita gente esquece é que os povos indígenas prestam um imenso favor à humanidade: o ar que você respira e a água que bebe, por exemplo, podem se dever a eles. Por conta disso, os povos indígenas organizaram-se e conseguiram que o Estado reconhecesse seus Planos de Gestão, através da
Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena – PNGATI, lançada por decreto presidencial 7747 de 2012. Essa política reconhece os
planos de gestão socioambientais indígenas como instrumentos para a gestão das terras e para a promoção da qualidade de vida dessa parcela da população e de todo o resto da população brasileira. Contudo, há que se frisar que o que assegura a qualidade ambiental das terras indígenas é a
permanência dos índios, mas essa permanência deve se dar com qualidade.
Os índios precisam que o Estado não os atrapalhe, pois só há gestão socioambiental quando continuam vivendo segundo seus jeitos e conhecimentos. Por isso, as políticas públicas devem, obrigatoriamente, ser feitas com ampla participação popular, para que, além de garantir a democracia, sejam adaptadas às realidades e necessidades locais. Uma das necessidades mais importantes é a da integração: as políticas públicas devem ser integradas. Não adianta tentar promover a gestão das terras indígenas, sob o argumento de que os modos de vida indígena promovem tal gestão, se as políticas para a educação, por exemplo, são colonizantes e equivocadas, e acabam obrigando os povos indígenas a abandonar esses amplos e profundos conhecimentos.
IHU On-Line - Deseja acrescentar algo?
Por Patricia Fachin
 A visão foi constrangedora. Quase 20% da superfície líquida se tornara sólida, aterrada pelos rejeitos da lavagem do minério, que eram depositados no lago porque a mineradora não construíra uma bacia própria de deposição. O Batata, um dos maiores lagos que margeiam o grande rio, afluente da margem esquerda do Amazonas, estava sendo destruído sem clemência. O volume despejado até aquele momento correspondia à lavra de apenas uma década e meia.
A visão foi constrangedora. Quase 20% da superfície líquida se tornara sólida, aterrada pelos rejeitos da lavagem do minério, que eram depositados no lago porque a mineradora não construíra uma bacia própria de deposição. O Batata, um dos maiores lagos que margeiam o grande rio, afluente da margem esquerda do Amazonas, estava sendo destruído sem clemência. O volume despejado até aquele momento correspondia à lavra de apenas uma década e meia.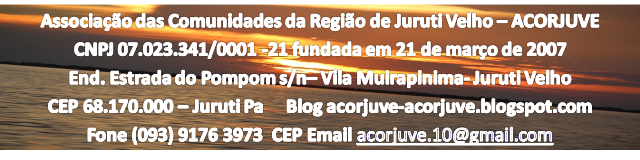







 O papa acolheu na manhã de quarta-feira (23/12), o pedido de renúncia de dom Erwin Kräutler, que deixa, por razão de idade, a condução da prelazia do Xingu após 35 anos.
O papa acolheu na manhã de quarta-feira (23/12), o pedido de renúncia de dom Erwin Kräutler, que deixa, por razão de idade, a condução da prelazia do Xingu após 35 anos.




